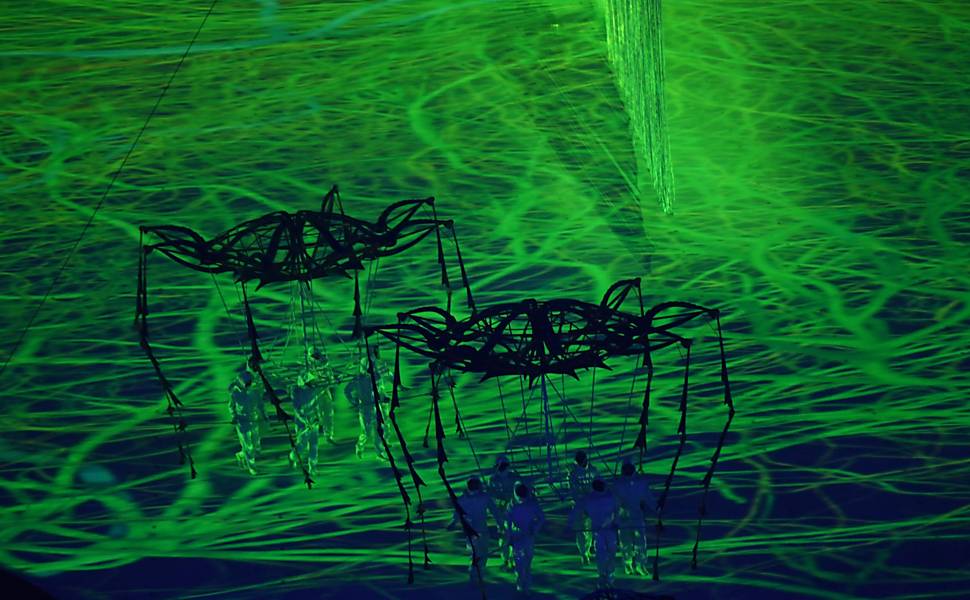Não tenho como começar este texto
se não por uma nota biográfica. A
primeira Olimpíada de que me lembro foi Barcelona, em 1992. Foi quando eu me
apaixonei perdidamente por vôlei, com aquela seleção que tinha o Marcelo Negrão
e conquistou nosso primeiro ouro na modalidade. Tinha o Robson Caetano
correndo, com toda a sua elegância. E assisti as meninas da ginástica olímpica
voando, sonhando em ser uma delas, mesmo quando o chato do meu pai disse que eu
era muito grande e inelástica para treinar. Meu pai, aliás, ex-judoca que era,
vibrou muito com o ouro do Brasil, e colocou eu e meu irmão pra lutar num
colchão na sala de casa. Mas, na verdade, o que mais me encantou nas
Olimpíadas, o que me fez ter um desejo ardente de fazer parte, foi a cerimônia
de abertura, com a
pira olímpica acesa por uma flecha de fogo. Passei a vida
sonhando com uma Olimpíada no Brasil para que eu pudesse assistir ao vivo, de
corpo presente, a cerimônia. Passaram-se 24 anos e eu assisti a Cerimônia de
Abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 pela televisão. Pois é.
Cerimônias de Abertura das
Olimpíadas são as notas biográficas dos países sede. São histórias que contam
sobre si mesmos para si mesmos, como escreveu Clifford Geertz em suas notas
sobre a briga de galos balinesa. São também as narrativas necessárias e
possíveis para o momento histórico de cada país. Afinal, elaborações de si e do
passado se fazem sempre no presente. E são ainda histórias que se contam para o
Outro, como uma forma de se apresentar e apresentar as suas armas. Como um
ponto de chamada, em que a entidade diz a que veio e o que faz.
A história que o Brasil tem
contado sobre si mesmo para si mesmo ao longo do tempo tem basicamente dois
tropos: o mito das três raças e os dilemas da modernização. Contamos essa
história repetidamente, apresentando variações do mito, com maior ou menor
disposição de resolver as inescapáveis tensões dialéticas que se apresentam
nessa narrativa. Qualquer tentativa de resolvê-las, é claro, é cair em uma armadilha.
Fernando Meirelles foi mais esperto, fingiu resolvê-las para deixa-las
escancaradas. Talvez ele esteja gozando daquele otimismo estruturalista do
Lévi-Strauss em Raça e História, de que na verdade é o acúmulo de versões do
mito que leva a algum progresso. Decerto, em uma linguagem que joga o tempo todo com transformações entre figura e fundo, o espetáculo torna explícito o tempo todo o que é dito e o que é silenciado, e como vozes e silêncios transformam-se uns nos outros. E são justamente os movimentos de transformação o mais importante, porque revelam que as coisas nunca são absolutamente uma coisa ou outra.
Vamos lembrar que a narrativa da
Cerimônia de Abertura tem dois (ou talvez três) pontos de partida externos à
performance no Maracanã. O primeiro foi o esforço algo quixotesco de Lula, com a emergência do BRICS, em
construir o protagonismo internacional do Brasil, que o levou a amealhar a
realização da Copa do Mundo e das
Olimpíadas, com a benção das empreiteiras
entusiasmadas pela realização das grandes “obras de infraestruturas”, quase
todas elas com problemas de projeto e execução, com superfaturamento e burlando
acintosamente laudos e leis socioambientais. Empreiteiras aliás envolvidas em
negociatas trianguladas entre Brasil (com tantos outros megaprojetos
desastrosos como Belo Monte), Europa/Portugal e África, onde também estão
acontecendo as tais obras de infraestrutura.
O segundo foi a entrada do Brasil
na cerimônia de Encerramento de Londres 2012, com Marisa Monte incorporando
Iemanjá, para realizar a viagem ultramarina do Velho ao Novo Mundo. A orixá iorubá, que dos rios chegou ao mar na fé dos africanos trazidos à colônia como
escravos, realizando o percurso do Tâmisa à Baía de Guanabara.

O terceiro foi a
última versão narrada do mito das três raças, na cerimônia de abertura da Copa
do Mundo de 2014, cerimônia lamentável em todos os aspectos, à notável exceção
do menino guarani que recusou seu papel de conciliador e de índio genérico
quinhentista e se afirmou como sujeito político do presente ao revelar a faixa
exigindo Demarcação Já para as Terras Indígenas.

A contagem regressiva é feita em
um enorme mosaico de corpos e tecidos prateados, ora figura ora fundo da
projeção feita sobre o tablado colocado no gramado do Maracanã como tela e picadeiro
para a cerimônia. Geometrias que se querem modernistas, futuristas, e
orgânicas, nativas. Delas saem fios verdes luminescentes que formam a imagem de
Ziraldo, meio símbolo da paz, meio árvore, paradoxalmente confinada em um
círculo. Alguns fogos burocráticos do círculo maior do estádio soam as trombetas.
Anunciam-se as autoridades, os
homens engravatados. Michel Temer, vaiado nos ensaios e na vida, não é mencionado, e o mundo se apercebe de sua presença sinistra, força de anti-vida. Dilma, com
seu espírito guerrilheiro, ao menos suportou as vaias e as ofensas na abertura
da Copa do Mundo. Temer não. É um alerta geral, este é um espetáculo em que
temos que prestar muita atenção aos silêncios.
Mas o hino nacional é cantado por
Paulinho da Viola e um octeto de cordas. Sotto voce, delicado, sem nenhum
ufanismo desmesurado. Crianças e atletas veteranos somam-se ao coro enquanto a
bandeira é hasteada. Poucas vezes na vida nosso hino me inspirou respeito. Esta
foi uma.
Então, a primeira imagem que
vemos é o mar quebrando na areia. Das águas saem criaturas/marionetes, formas
primordiais de vida em cujas entranhas podemos ver os corpos dos dançarinos
contidos nas formas, escapando da obviedade da biodiversidade normalmente celebrada.
O caranguejo que vemos subindo é o desbravador “da lama ao caos” (Saravá, Chico
Science), em que a lama é o mangue, é a Guanabara e é também o Rio Doce
devastado após o crime da Vale/Samarco em Mariana. Tudo isso é explicitamente
não dito.
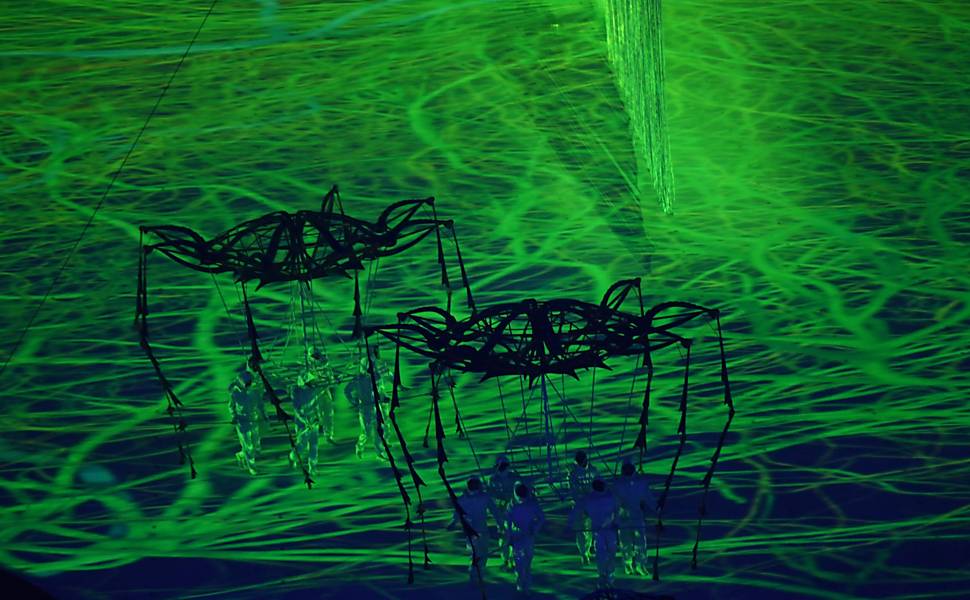
Em seguida vemos as fileiras de
índios entrando. Começa o mito das três raças propriamente dito. Um grande
comentário do dilema brasileiro e também amazônico.
Sônia Guajajara denuncia a folclorização dos indígenas. Não são performers
indígenas, são dançarinos amadores do Boi Bumbá de Parintins, que “tem sangue
indígena” como disse o coreógrafo Erick Beltrão no
vídeo do making of. Os
realizadores do Boi Bumbá de Parintins enfrentam há anos essa crítica do “índio
genérico”, na expressão de Darcy Ribeiro. Não pretenderam resolvê-la aqui apelando
para minúcias de particularidades étnicas que criariam uma miríade de redutos
identitários. Pelo contrário, o que se apresenta aqui é a potência da
transformação sempre iminente. A coreógrafa Deborah Colcker montou uma cena em
que os índios trançam grandes fios suspensos em um varal que vai de fora a fora
do estádio. Fios que também servem de fundo para projeções de outros fios. Fios
que são tramados em padrões de teçumes e cestarias indígenas, em uma geometria muito
mais intrincada que a anterior, mais fractal e caótica, formando grandes ocas.
Pindorama, cheia de fios da floresta, casa dos índios.

Chegam os portugueses, em suas
caravelas esqueléticas contendo corpos como antes os animais marinhos haviam
feito. Deixam um rastro mortífero avançando pelo verde dos fios projetados,
enquanto são envolvidos pelos fios suspensos. Chegam, por fim, os africanos, com
um corpo de dançarinos cujos fenótipos levantaram acusações de blackface nas
redes sociais. Não chegam em barcos, nos navios negreiros que os trouxeram da
África para a América, mas em rodas e passos marcados, já caracterizados como
força de trabalho. A “homogeneidade” dos africanos de muitos povos, em
contraste com a nacionalidade marcada dos portugueses, será complexificada mais
adiante. O fundo da projeção retoma o tropo da modernização. A ferida das
caravelas vai sendo tomada por outras feridas, marcadas no compasso do trabalho
escravo, linhas reticulares que mostram os campos de cultivo do Brasil rural.
Este Brasil das capitanias hereditárias, dos latifúndios, das linhas planificadoras
que atropelam os fios da vida e rasgam a floresta. Essa sobreposição de linhas
em uma racionalidade planificadora e que se furta à vida traz as reflexões de
Tim Ingold, de seu livro Lines. Lines também pode nos trazer um contraponto para os jogos de figura e fundo do espetáculo. Ingold fala de uma distinção entre fios, que se tramam para formar superfícies, e traços inscritos sobre superfícies. As projeções da abertura jogam com ambas as formas de linha, em que as superfícies ora são pano de fundo para o desenrolar da narrativa em que os atores e objetos cênicos são destacados, ora são coberturas que ampliam, magnificam e acabam por sobrepujar qualquer ação humana, como nessa imposição do progresso. A afirmação de progresso deixa explícito, sem
ter que o dizer, o quanto o progresso aqui sempre quis dizer colonização,
expropriação e genocídio. Chegam por fim, e um tanto burocraticamente, os
outros povos que compõem a “nação miscigenada” brasileira, árabes, orientais,
etc. Esta parte do mito funcionou muito
melhor na entrada das delegações em que podemos reconhecer, ou não, nossos
parentes.

E o cenário muda para uma
paisagem urbana. As linhas parecem rachaduras no fundo branco. São os vãos dos
prédios que vão emergindo em uma ilusão de tridimensionalidade, enquanto
dançarinos “saltam”. Em uma extremidade, prédios “de verdade” formam um fundo
enquanto os dançarinos montam uma parede ao som orquestrado furioso de “Construção”,
de Chico Buarque. Os blocos de construção são também as asas quadriculadas do
14 Bis de Santos Dumont, aquela necessária pirraça brasileira de que nós também
temos um inventor importante. Santos Dumont decola em uma pista de pouso e
sobrevoa uma paisagem urbana noturna, linhas douradas piscantes do plano
ortogonal sobre um fundo escuro, projetada também pelas lanternas da
arquibancada, até sair do Maracanã para o céu noturno do Rio. E a urbanidade
excessiva é redimida pela conversão das fachadas dos prédios no rosto de Tom
Jobim. Ouvimos, executada por seu neto ao piano, a música cartão de visita do
brazilian way of life, Garota de Ipanema, em uma representação de Tom muito
melhor do que os mascotes horrendos criados por publicitários leite-com-pêra. A
Garota de Ipanema realiza as inversões mais uma vez. Ela não desfila a caminho
do mar, mas dos prédios da metrópole. Tampouco é uma moça do corpo dourado, é a
gaúcha/alemã Gisele Bundchen, em um vestidão prateado. Choca não por ser linda,
embora o seja, mas por ser a mais reconhecida beleza assim tão europeia, embora
brasileira. Como a bossa nova, afinal. Ondulam suas madeixas loiras e ondulam
as linhas pelas quais desfila evocando Niemeyer.

Esta ondulação é rompida abruptamente por uma projeção de cubos psicodélicos
e dançarinos negros fazendo o Passinho no alto dos prédios, caindo do morro mas
muito acima do asfalto. Começa a celebração da favela. Ludmilla canta o “Rap da
Felicidade”, mas pula as partes da música que falam de exclusão social. Os
gringos não sabem, mas a gente sabe. É tanto cinismo que deixa de sê-lo. Vinícius
de Moraes surge, com Baden Powell, enegrecido na batida eletrônica do funk
carioca e na voz da Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares, com um cabelão roxo. E
canta-se o Canto de Ossanha, cuja letra parece hoje narrar pari-passo a farsa
da política brasileira.
“O homem que diz "dou" não dá
Porque
quem dá mesmo não diz
O homem que diz "vou" não vai
Porque
quando foi já não quis
O homem que diz "sou" não é
Porque
quem é mesmo é "não sou"
O homem que diz "tou" não tá
Porque ninguém tá quando quer
Coitado do homem que cai
No canto
de Ossanha, traidor...”
(chorei nessa parte, confesso, amo demais essa
música)

Macumbarias do capitalismo, na versão tupiniquim do manifesto de
Isabelle Stengers. Nessas tensões sem síntese, contrapontos como se diz na
música, o samba e o rap tem um novo encontro com Zeca Pagodinho e Marcelo D2,
vestidos de branco-terreiro, cantando “Deixa a Vida me Levar”. Dizem as más
línguas que estamos celebrando juntas a cachaça e a maconha, escondidas na
malandragem. Capoeiras caleidoscópicos jogam enquanto MC Karol e MC Soffia, em
um visual cyberfunk, mandam um funk feminista, seguidas da Gang do Eletro
fazendo o baile-rave. Os prédios e o asfalto viram cada vez mais morro, aquele
que sobrevive e resiste às UPPs. Moradores da Mangueira, enquanto isso,
assistem de longe, do alto das lajes. A polícia fez um cordão de isolamento de
200 metros do Maracanã. Longe dali, em São Paulo, a polícia desce a porrada em
manifestantes.
Segue-se um momento constrangedor com Regina Casé como mestra de
cerimônias, dizendo que estamos a celebrar as nossas diferenças. Ela, falhando
miseravelmente e propositadamente ao propor a síntese da tensão dialética,
lembra-nos que não conseguimos ainda escapar do ranço da Rede Globo (não me
leve a mal, Regina, adoro seus filmes), do “racismo cordial” negado pela trupe
do Ali Kamel. Jorge Ben canta País Tropical, fechando o toque Brechtiano do
espetáculo.
O tropo da modernização e sua história linear e evolutiva evocam as
narrativas apocalípticas de um futuro ameaçado pela destruição do meio
ambiente. Uma Flor Nasceu na Rua, poema de Drummond sobre a vida bruta e
singela, é recitado de forma bilíngue por Fernanda Montenegro e Judi Dench (que
deixa o papel Londres 2012 de chefe do James Bond). O Brasil reitera seu papel
de guardião do mundo e do futuro pela preservação das florestas que impedem o
aquecimento global, causado pela queima de combustíveis fósseis e emissão de CO2
na atmosfera. A notória ausência de protagonistas indígenas nesse discurso,
tendo sido eles nossos porta vozes mais eloquentes e sensatos desde os anos
1980 e a Eco 1992, soma-se à profusão de denúncias dos abusos crimes e
atrocidades cometidos para a realização dos Megaeventos no Brasil, todas elas
abafadas e mal respondidas pelos políticos dos três níveis da federação
envolvidos. A imprensa internacional, é claro, esbalda-se no cinismo. A poluição
da Baía de Guanabara, a destruição de uma área de proteção ambiental para a
construção do campo de golfe, a precariedade das instalações da Vila Olímpica,
as metas ambientais não cumpridas. Fernando Meirelles,
marinista e ator relevante na articulação da Rede Sustentabilidade, deixa propositadamente o
flanco aberto para este tipo de ataque, enquanto a sua projeção didática acusa
apenas os países estrangeiros. Diz não dizendo. Travestido de isenção política.
As linhas dos gráficos em toda a sua cientificidade, são apenas uma versão
purificada e empobrecida de todos os fios anteriormente tramados na cerimônia,
em múltiplas redes. Jamais Fomos Modernos, como sublinhou Bruno Latour, mas nós
somos brasileiros e não desistimos nunca.
Voltamos para a praia, para o desembarque das delegações. Ao invés da
volta olímpica, passam apenas pelo centro do Maracanã, sendo lideradas por crianças com mudinhas e
bicicletas brega-kitsch de jardim com os nomes dos países. Levam sementes que
serão introduzidas em uns raladores gigantes metálicos e medonhos, parentes
distantes dos Daleks de Dr. Who. As delegações são conduzidas quase na marra
por ritmistas das escolas de samba, lembrando que afinal de contas o Brasil é
um país extremamente autoritário. As más línguas compararam a imagem aérea do
desfile a uma vagina gigante, o que dá uma enorme dignidade ao evento, como
Origem do Mundo.

É uma mensagem eficaz de conciliação, de espírito olímpico
capaz de interromper guerras e levar à confraternização dos povos. Eu quase
acredito que Olimpíadas no Terceiro Mundo fazem justiça às dezenas de
delegações de países do terceiro mundo, cujo uniforme de cerimônia é
infinitamente mais bonito do que os insuportáveis terninhos e uniformes da
Adidas. Em um momento de erosão da União Europeia e Trump falando sobre deixar
a OTAN, a mensagem fricciona (treme, treme, disse a Gang do Eletro logo antes).
Os narradores e comentaristas brasileiros dão um banho de etnocentrismo e
ignorância, enquanto comentam a entrada das delegações. Todavia, é bonito ver
Palestina entrando, ver a delegação de refugiados entrando. O Brasil entra ao
som de Aquarela do Brasil, como não podia deixar de ser. Lea T conduz a nossa
bicicleta, uma celebração da vida e da pauta LGBT diante das nossas pessoas
trans que são assassinadas diariamente (tem uma entrevista linda dela
aqui). Sutil, e contundente o suficiente para
dar um recado à nossa Bancada BBB e a todos aqueles empenhados em fazer ruir os
direitos humanos conquistados a duras penas nesse país.

Os raladores/robôs assassinos são arrumados em círculos para formar os anéis
olímpicos. Explodem em anéis de folhagens, espalhando sementes. Lembram enormes
pés de maconha, mas é só por acaso. Fogos e mais fogos. O Maracanã vira um
caldeirão. Crianças trazem pipas e é feita uma homenagem a um atleta queniano
que se transformou em educador. Mais um comentário sutil e talvez involuntário sobre
a falência da Pátria Educadora. Os notáveis fazem discursos, aquela parte
obrigatória e dispensável da cerimônia. Temer declara os Jogos Olímpicos
abertos e é
abundantemente vaiado. Alguns amigos com quem assisto os jogos tem
seus corpos tomados de raiva catártica e gritam e assobiam para a televisão. As
redes sociais explodem. A Máquina e a Revolta, quarenta anos depois da tese de
Alba Zaluar sobre Cidade de Deus.
A bandeira olímpica é trazida por
alguns notáveis, entre eles Ellen Gracie, representando nosso STF cada vez mais
pop, Oscar Schmidt e Marta, a face e a esperança do nosso futebol pós 7x1.
Wilson das Neves chama nossos ancestrais, tocando samba em uma caixinha
de fósforos enquanto um menininho samba. Chamando Ary Barroso, passa a bola
para Caetano e Gil cantarem “Isto aqui o que é?” acompanhados de Anitta. O
truque da inversão se faz mais uma vez. A música do cânone sagrado brasileiro
cantada por uma funkeira formada no gospel. Caetano, responsável pela escolha,
mostra sua argúcia costumeira ao declarar saber muito bem para quem o bastão da
música brasileira está sendo passado. Anitta canta bem e sensualiza, porque
ninguém ali está interessado no sexy-sem-ser-vulgar. As baterias das escolas de
samba entram por fim.

Guga adentra o Maracanã, meio correndo, meio mancando, trazendo a tocha.
Hortênsia a recebe e a entrega para Vanderlei Cordeiro de Lima, símbolo do
espírito olímpico e da teimosia brasileira. Nossos heróis veteranos, cansados
mas não vencidos. Nossa pira é pequena, sustentável, emoldurada por uma
escultura solar movida por energia eólica. Um comentário sobre a necessidade de
mudar a matriz energética, abandonando os inimigos combustíveis fósseis (e, de
modo não dito, as barragens catastróficas da hidroeletricidade, como
conquistado pela
incrível vitória dos mundurucus defendendo o Tapajós).

A nota biográfica brasileira é uma narrativa difícil, cheia de silêncios
e de lacunas, cheia de contradições e paradoxos, cheia de injustiças e
irresponsabilidades, de violência e uma luta constante contra o desespero. Esta
foi a narrativa possível, a narrativa necessária, executada com maestria porque
de fato somos muito bons mesmo em fazer festa. O avesso dessa narrativa é o
desempenho patético da seleção olímpica de futebol masculino, cada vez mais
desacreditada, corporificação absoluta de nossos dirigentes corruptos e
ineficientes. Dizer que aprendemos alguma coisa com o 7x1 é cair mais uma vez
no conto do progresso, essa mentira escrita na bandeira nacional que o Temer
tomou como slogan de governo. Mas o exercício de narrar a nós mesmos, e deixar
agir o trabalho do tempo nessas narrativas sobre o mito das três raças e a
modernização, é aquilo que dialeticamente pode encontrar em nosso passado os
lampejos necessários. Benjamin escreve nas Teses sobre o Conceito de História
que todo documento/monumento de cultura é um documento/monumento de barbárie e
nos exorta a escovar a história a contrapelo. Estes são os nossos Jogos
Olímpicos Rio 2016.